Jazigos minerais e outros conceitos
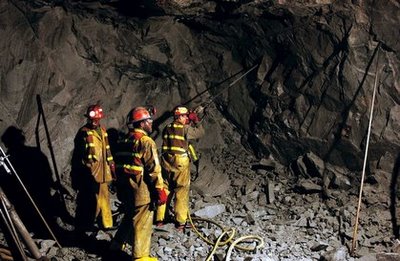
Jazigos Minerais são acumulações ou concentrações locais de rochas e minerais úteis ao homem que podem ser exploradas com lucros.
Minério é qualquer mineral explorado para um fim utilitário. O minério em bruto, normalmente, é constituído por uma mistura do mineral desejado (útil) e de minerais não desejados, os quais são designados por ganga.
Clarke é uma unidade de medida correspondente à percentagem média de um elemento existente na crusta terrestre, o mesmo que abundância média de um elemento pertencente à crusta terrestre. Na tabela abaixo representada, observamos que muitos elementos estão presentes em muito baixas concentrações.
|
CLARKES DE ALGUNS ELEMENTOS ECONÓMICOS, EM PARTES POR MILHÃO (PPM) OU GRAMAS POR TONELADA (g/T) |
|||||
|
Elemento |
Clarke |
Elemento |
Clarke |
Elemento |
Clarke |
|
Alumínio |
81.300 |
Chumbo |
13 |
Prata |
0,07 |
|
Antimónio |
0,2 |
Lítio |
20 |
Tântalo |
2 |
|
Berílio |
2,8 |
Manganésio |
950 |
Estanho |
2 |
|
Crómio |
100 |
Mercúrio |
0,08 |
Urânio |
1,8 |
|
Cobalto |
25 |
Molibdénio |
1,5 |
Vanádio |
135 |
|
Cobre |
55 |
Níquel |
75 |
Tungsténio |
1,5 |
|
Ouro |
0,004 |
Nióbio |
20 |
Zinco |
70 |
|
Ferro |
50.000 |
Platina |
0,01 |
|
|
Ganga / Estéril – minerais que estão associados ao minério, que não têm valor económico.
Métodos de estudo dos jazigos minerais
O estudo dos depósitos minerais faz apelo a um conjunto de disciplinas das Ciências da Terra, tanto sobre o terreno como em laboratório. Sobre o terreno, as principais questões colocadas são a natureza e a geometria das mineralizações, as suas relações espaciais com os encaixantes (principalmente conformidade ou discordância), o estabelecimento da cronologia numa história geológica orientada para a reconstituição das paisagens. Não existem métodos específicos, mas um esforço para por em prática os métodos geológicos mais adaptados. Reteremos contudo que a cartografia a uma escala detalhada (1/1000 a 1/10000) constitui quase sempre uma etapa essencial.
Em laboratório, os métodos utilizados deverão responder às necessidades da descrição detalhada dos objectos geológicos e mineiros e a uma compreensão da génese das concentrações. A parte descritiva apoiar-se-á em particular sobre uma mineralogia detalhada dos sulfuretos (mineragrafia) a fim de estabelecer a posição das substâncias económicas e a evolução das paragéneses minerais. A natureza das alterações pode ser reconhecida pelos balanços de massa, baseada em na´lises (maiores, vestigiais, densidade), pelas associações mineralógicas e pelos estudos detalhados dos minerais. As relações cronológicas entre mineralizações, alterações e encaixantes constituirão igualmente um elemento fundamental ao esclarecimento, utilizando por exemplo as texturas de deposição das mineralizações.
A reconstituição da génese das mineralizações mostrará as condições de deposição, de transporte e da natureza da fonte dos elementos. Deveremos determinar a idade da mineralização, em relação aos encaixantes e à evolução geológica duma maneira absoluta (cronómetros isotópicos). As condições de transporte e deposição poderão ser aproximadas pelo estudo das inclusões fluídas, dos equilíbrios mineralógicos, da geotermometria isotópica e da análise microtectónica. A pesquisa das fontes torna-se um trabalho difícil, fazendo apelo à geoquímica dos elementos vestigiais, à petrologia e à geoquímica isotópica. A elaboração duma síntese poderá efectuar-se dum modelo descritivo ou dum modelo genético com carácter sistemático exprimindo os processos genéticos. A afinação dos guias de prospecção e a descoberta constituem os elementos decisivos que permitem validar os resultados da investigação.
A noção de mineral é também importante, assim apresentaremos aquela que nos foi dada na aula:
-Mineral é uma substância natural, sólida, cristalina, com composição química definida ou variável dentro de certos limites. Exemplos: quartzo, ouro, pirite e soluções sólidas como a olivina.

Estudo da formação de minerais
O estudo dos jazigos minerais baseia-se, fundamentalmente, na paragénese e na sucessão dos minerais que o constituem; como se viu, são estas duas características intrínsecas a considerar em primeiro lugar na caracterização de qualquer jazigo mineral. Impõe-se, portanto, estudar os minerais em si nas respectivas associações naturais antes do estudo dos jazigos. A formação de qualquer mineral e mesmo de qualquer associação mineral é caracterizada pela temperatura e pressão ambiente em que se originou. Todavia, aqueles factores físicos podem variar entre limites latos para umespécie mineral e mais latos ainda para uma dada paragénese. Outro aspecto essencial na formação de um mineral é a presença dos “nutrientes” necessários à sua formação (quais os elementos químicos presentes e quaias respectivas quantidades disponíveis no ambiente?).Quanto ao último aspecto, a presença de determinados elementos químicos depende, essencialmente, de três factores:
da origem: magmática juvenil, magmática por fusão de rochas pré-existentes, da lixiviação de rochas, de desagregação mecânica
do transporte: sem transporte (autóctones) e com transporte (alóctones)
do mecanismo de concentração: físico, químico, mecânico ou misto.
A temperatura de formação dos minerais deve variar entre mais de 1200 ºC epoucas dezenas de graus negativos, e a pressão, provavelmente, entre20000 atmosferas e a pressão à superfície da Terra (Ramdohr in Freund,1966 p. 203).Se estas condições físicas podem ser reproduzidas de modo satisfatório no laboratório, está-se porém longe de reproduzir todas as associações paragenéticas e muito menos tirar conclusões sobre o modo como aquelas determinam a formação das associações naturais. Não obstante estas limitações, a temperatura de formação dos minerais e das respectivas associações pode ser inferida, frequentemente, com certa precisão por meio dos chamados termómetros geológicos que podem basear-se em medidas directas, pontos de fusão e de inversão, dissociações e exsudações, alteração de propriedades físicas, recristalizações e inclusões fluidas. Todas as interpretações baseadas nestes fenómenos têm de se revestir de enorme cuidado visto serem facilmente susceptíveis de erro. Daí o ser preferível, frequentemente, fazer-se simplesmente ideia da temperatura aproximada de formação das associações minerais pela identificação dos chamados minerais tipo mórficos ou indicadores de temperatura e de texturas tipo mórficas.
Este último procedimento, embora seja mais prudente e deva ser seguido quando não se tenha suficiente experiência para recorrer aos termómetros geológicos, deve também ser seguido com cuidado, principalmente quando se trate de paragéneses raras. O significado termométrico dos minerais tipo mórficos será tanto mais preciso ou convincente quanto mais numerosos forem numa dada paragénese. Não menos importante que a influência da temperatura e da pressão é processo de formação
dos minerais. Não obstante este se processe sob a influência directa daquelas, um mesmo processo pode originar minerais dentro duma gama vasta de temperatura e pressões. Se interessa o estudo das condições de formação dos minerais, interessa também conhecer o respectivo domínio de estabilidade, visto este ser muito variável de mineral para mineral. O processo de formação e as condições de temperatura e pressão em que se originaram os minerais ficam, por assim dizer, impressos na respectiva textura e estrutura que, por isso, têm tão grande importância no estudo dos jazigos minerais.
Termometria Geológica
Medições directas
Este método só é aplicável às lavas, fumarolas e nascentes quentes; dá indicação sobre as temperaturas máximas a que se podem ter formado os minerais constituintes das lavas e os originados pelas fumarolas e nascentes quentes e que se depositaram nas cavidades por onde os gases e as águas brotam à superfície da Terra ou nas proximidades imediatas.
Para as lavas basálticas têm-se registado temperaturas superiores a 1300 ºC que diminuem, todavia, com o aumento da acidez das lavas. Os trabalhos de T. A. Jager, em Kilauea (Havai), provaram que aquelas temperaturas elevadas (1350 ºC) só se verificavam à superfície da lava líquida, através da qual se escapavam gases em combustão; cerca de um metro abaixo daquela superfície, a temperatura das mesmas lavas baixava para 850 e 750 ºC (Shand, 1943, p.68). Mesmo a estas temperaturas mais baixas, porém, a cristalização da lava já se pode ter iniciado como mostra o facto de se terem encontrado cristais, bem desenvolvidos, de augite e de leucite em lavas perfeitamente fluidas do Vesúvio. Minerais tais como a cromite, quando segregada em magmas básicos, devem cristalizar dentro do intervalo de temperaturas correspondente à formação das rochas básicas.
Para os gases das fumarolas têm-se registado temperaturas desde cerca de 650 ºC até 100 ºC e, por vezes menos, consoante as relações entre as fumarolas e as erupções vulcânicas. Assim, as indicações termométricas destas são talvez ainda menos precisas que as das lavas. Os minerais que se têm apontado como produtos sublimados das fumarolas são bastante variados e compreendem magnetite,
pirrotite, pirite, galena, leucite, augite, etc.
As águas termais apresentam à superfície temperaturas que vão até à do ponto de ebulição da água e, relacionadas com elas, observam-se depósitos de opala, gesso, cinábrio, antimonite, enxofre, etc. As observações directas de temperaturas não oferecem, portanto, grandes possibilidades como termómetros geológicos; todas fornecem, como se disse, valores que têm de ser considerados máximos e cuja correcção não é simples.
Pontos de Fusão
Este método baseia-se na determinação laboratorial dos pontos de fusão dos minerais; dá, portanto, valores máximos ou seja o limite superior do intervalo de temperaturas a que se podem ter formado os minerais. Deve atender-se a que os minerais, na natureza, se formam a partir de fluidos complexos, em que a presença de substâncias diversas dissolvidas e de outras voláteis deve acarretar um abaixamento dos pontos de fusão; a pressão deve exercer também uma certa influência, embora menos importante tanto mais que no estudo dos sistemas químicos naturais se tem de considerar mais intervalos de fusão do que pontos de fusão.
Na prática, a utilização dos pontos de fusão também não se tem revelado de grande interesse, dado que os minerais têm, em regra, temperaturas de fusão mais elevadas que as respectivas temperaturas de formação e não sofreram fusão durante o processo de formação dos respectivos jazigos.
Pontos de Inversão
O método que se baseia nos pontos de inversão, isto é, na passagem de uma fase a outra, quimicamente idêntica mas cristalograficamente distinta (formas polimórficas) é de utilização mais generalizada porque a influência da pressão é bastante mais reduzida e muitas inversões verificam-se a temperaturas bem definidas e referenciáveis com relativa facilidade.
Uma das inversões mais conhecidas e importantes é a do quartzo β (hexagonal, classe trapezoédrica) em quartzo α (romboédrico, classe trapezoédrica trigonal) que se verifica a 573 ºC. Alguns sulfuretos apresentam, semelhantemente, inversão entre duas formas polimórficas, que se dá a temperatura mais ou menos bem definida. No caso em que ao mineral de alta temperatura, sempre de simetria mais elevada, corresponde simetria cúbica, o exame da anisotropia pode dar indicações sobre a temperatura de formação. Assim, se o mineral apresenta anisotropia uniforme é porque se formou abaixo da temperatura de inversão e se, pelo contrário, apresenta anisotropia irregular é porque se formou acima daquela.
Dissociações
Este método baseia-se no estudo dos minerais que a dada temperatura libertam constituintes voláteis, como sejam os zeólitos em relação à água de constituição; porém, a temperatura destas dissociações é fortemente influenciada pela pressão. Fornece, pois, indicações sobre a temperatura máxima de formação dos minerais.
Exsudações
Baseia-se este método naqueles minerais que originam soluções sólidas que, a determinadas temperaturas mais baixas, deixam de ser estáveis, dando-se a separação dos constituintes da solução sólida com consequente formação de texturas de exsudação. Este método dá a temperatura inferior do intervalo de formação da solução sólida, isto é, o limite inferior do domínio de estabilidade desta; deve notar-se, todavia, que nem sempre é fácil determinar as texturas devidas realmente a fenómenos de exsudação e que a temperatura de exsudação varia com a concentração do material dissolvido.
Um exemplo típico deste fenómeno é a exsudação da calcopirite na blenda que se dá a 550 ºC. A interpretação das texturas de exsudação baseia-se sobre tudo em experiências laboratoriais e dada a frequência com que se observam aquelas a respectiva importância como Termómetros geológicos aumentará certamente com o desenvolvimento das experiências laboratoriais.
Alteração das Propriedades Físicas
Alguns minerais sofrem modificações, facilmente reconhecíveis, de certas propriedades físicas sob a influência da temperatura. É o caso, por exemplo, dos halos pleocróicos da biotite que são destruídos a 480 ºC, do quartzo fumado e ametista que perdem a cor entre 240 e 260 ºC, o mesmo acontecendo com a fluorite a cerca de 175 ºC. Estas observações fornecem, portanto, indicações sobre a temperatura máxima de formação dos minerais.
Recristalizações
Este método baseia-se na propriedade que têm alguns minerais de sofrerem recristalizações a temperaturas particulares .Aplica-se sobre tudo aos elementos nativos, permitindo distinguir se são de origem supergénica ou hipogénica.
Formação dos Minerais
A formação de minerais é, sem dúvida, controlada de modo importante pelas condições físicas, temperatura e pressão, e por isso se começou por examinar os métodos que podiam fornecer elementos sobre a temperatura de formação daqueles e, subsidiariamente, se apontou a acção da pressão, já que o estudo da influência desta apresenta grandes dificuldades. Porém, a formação dos minerais, embora controlada por aquelas condições físicas, pode processar-se por modos diversos que se vão passar em revista.
Cristalização dos Magmas
Um magma é definido como um banho de fusão silicatado e compreende toda a matéria rochosa natural fluida constituída, fundamentalmente, por uma fase líquida com a composição de um banho de fusão silicatado. Pode, pois, considerar-se, essencialmente, como um líquido formado pela fusão de silicatos. Deste modo, a cristalização dos minerais, a partir daquele, opera-se do mesmo modo que a partir de uma solução aquosa; quer dizer, atingida a saturação do magma para um dado mineral, este começa a cristalizar desde que a temperatura do magma, para a pressão dada, seja inferior à temperatura de fusão mínima daquele mineral (Bateman, 1950, p.29; Tatarinov, 1955, p.34).
A cristalização de minérios a partir de um magma pode dar lugar a concentrações originando jazigos de cromite, apatite, titano-magnetite, etc.
O processo é mais complexo do que se pode deduzir deste simples enunciado e a ele se voltará com mais pormenor.
Sublimação
O desenvolvimento de calor que acompanha a actividade vulcânica causa a volatilização de algumas substâncias que se libertam conjuntamente com gases, sob a forma de vapores. Estes dão facilmente origem à deposição de sublimados por contacto com as paredes frias das crateras e das fendas por onde se libertem os gases e os vapores que originam as fumarolas. Por este processo se origina a deposição do ácido bórico, posteriormente transformado em bórax, na dependência de certas fumarolas e, sobretudo, os jazigos vulcânicos de enxofre, enxofre das solfataras.
Destilação
Supõe-se que seja um processo de destilação lenta de matérias orgânicas que está na origem do processo que conduz à formação dos jazigos de petróleo e de gás natural. É esta a opinião, pelo menos, de alguns especialistas de jazigos petrolíferos.
Deposição Coloidal
A concentração de substâncias a partir de soluções coloidais é frequente e importante pois numerosos minerais e metais, que são fracamente solúveis na água, dão facilmente soluções coloidais como seja (Tatarinov, 1955, p.37) por exemplo, sílica, alumina, ferro, manganês, níquel, etc.
Dos diversos sistemas coloidais ou dispersos, que se conhecem, tem particular importância sob o ponto de vista da formação de jazigos minerais, o sistema sólido-líquido, em que o sólido constitui a fase dispersa e a água a fase dispersante. Um tal sistema constitui um sol (suspensóide) quando a fase dispersante domina largamente a fase dispersa, um gel no caso contrário, e uma pasta ou massa quando a predominância da fase dispersa é tal que representa, praticamente a massa do sistema. São representativas deste último as argilas plásticas (Manos, 1958, p.166).
Os soles podem ser de dois tipos: hidrófilos quando existe uma forte interacção entre as partículas da fase dispersa e as moléculas de água, e hidrófobos quando não existe aquela interacção. Estes últimos são menos estáveis e, portanto, mais facilmente precipitados; por outro lado, os primeiros, quando precipitados por qualquer mudança física, são em geral reversíveis enquanto os últimos não.
Como exemplo de substância originando soles hidrófilos pode citar-se a sílica e de substâncias dando soles hidrófobos o hidróxido de alumínio.
Evidentemente, não existem limites precisos entre aqueles tipos de sistemas dispersos sólido-líquido, nem entre estes tipos de soles. As partículas coloidais apresentam-se electricamente carregadas, facto que resulta da adsorção de iões do líquido ou da ionização directa das próprias partículas coloidais. Assim, as cargas dos colóides de hidróxido de alumínio e de hidróxido férrico são positivas, enquanto os de sílica, hidróxido ferroso, dióxido de manganês hidratado, colóides húmicos e soles de sulfuretos têm cargas negativas.
Os colóides podem ser produzidos por duas vias diferentes: por fragmentação de partículas sólidas até dimensões coloidais (como sucede durante a preparação do tratamento mineralúrgico por flutuação em Neves- Corvo) ou por aglomeração de partículas moleculares ou iões até às mesmas dimensões. É este último processo que parece originar a maior parte dos colóides naturais.
INTRODUÇÃO E PERSPECTIVA HISTÓRICA DA GEOLOGIA ECONÓMICA
Os dados arqueológicos mostram que, desde a Antiguidade, o Homem se interessou pelos materiais geológicos, vendo neles qualidades estéticas ou procurando neles propriedades físicomecânicas. É o caso do ouro, devido à sua cor, brilho, estabilidade química e trabalhabilidade, ou da pederneira (sílex), pela sua dureza, tipo de fractura e resistência ao desgaste.
A importância dos materiais geológicos na história da humanidade é evidenciada pela própria nomenclatura utilizada pelos historiadores (por exemplo os períodos do Paleolítico, do Neolítico e do Calcolítico, ou as idades do cobre, do bronze e do ferro), cujos vestígios chegam até nós através dos templos, monumentos, túmulos, ornamentações e artefactos.
Nos rios, o homem primitivo encontrava a água, o peixe, os seixos, que utilizava no fabrico dos seus instrumentos, e a areia com que os polia. Aí encontraria também outros materiais, que pelas cores vivas e brilho intenso, o teriam surpreendido, como são os casos do ouro e das pedras preciosas!
O interesse pelas pedras preciosas e decorativas entre os povos do antigo oriente e entre os egípcios, por exemplo, está bem testemunhado nas jóias e noutros artefactos decorados, encontrados em monumentos religiosos e em túmulos. Às gemas eram atribuídos simbolismos e poderes de natureza religiosa ou mágica, tradição que ainda hoje persiste.
Desde muito cedo que o Homem começou a utilizar a argila e aperfeiçoou as técnicas de desmonte de pedreiras e preparação de blocos (em algumas civilizações o desenvolvimento técnico é notável).
As técnicas de tratamento dos minérios foram evoluindo naturalmente através dos tempos. A metalurgia do ferro terá começado por volta de 1500a. C., tendo sido praticada pela primeira vez pelos hititas, utilizando minérios do Cáucaso e da Arménia. Os primeiros fornos consistiam numa cavidade, que era enchida com minério de ferro e carvão de madeira e depois tapada com terra e pedras, ficando apenas uma abertura, na parte inferior, para entrar o ar. Obtiam assim uma massa pastosa ao rubro (não atingiam a fusão completa) que era depois moldada.
Os Romanos produziam já três tipos de ferro, cada um com aplicações específicas. Os técnicos metalúrgicos romanos eram também bastante hábeis na preparação de ligas metálicas. É-lhes atribuída a invenção do latão, liga de zinco e cobre, dúctil e maleável, e o uso do estanho.
Fizeram o uso sistemático do chumbo em complexas redes de canalização que abasteciam os banhos públicos e as casas das elites romanas em toda a área do império.
Na Idade Média as técnicas de tratamento dos minérios eram essencialmente empíricas. As operações de fusão e de refinação estavam associadas muitas vezes a práticas de magia, com o fim de afastar alguns metais diabólicos, como o níquel, o zinco e o cádmio, que prejudicavam a qualidade do material pretendido. Não obstante a preponderância da escolástica e as restrições impostas à experimentação pela Igreja, ensaiaram-se e compreenderam-se então muitas reacções químicas e descobriram-se novos metais , como o antimónio e o bismuto.
Desde cedo o Homem se dedicou à exploração mineira e também desde cedo tentou interpretar os fenómenos que conduziriam à génese e concentração de substâncias minerais úteis.
É curiosa a ideia de Santo Isidoro de Sevilha que, na Idade Média, séc. VII, fundamentava a génese do ouro a partir do ar, à semelhança dos vocábulos "aurum" e "aura".
Para Alberto Magno, séc. XIII, os metais formavam-se a partir do mercúrio e do enxofre pela acção do fogo.
Para Agrícola, séc. XVI, na génese dos metais estavam soluções mineralizantes, que eram combinações de terra e água aquecidas pelo fogo.
Com Werner, séc. XVII, nasceram as teorias metalogenéticas que defendiam que os minérios seriam o resultado da concentração a partir de soluções descendentes e singenéticas com as rochas encaixantes (a mineralização é contemporânea da rocha encaixante) - era a escola Neptunista.
Mas Hutton, seu contemporâneo, defendia que, pelo contrário, as soluções mineralizantes eram ascendentes, hidrotermais e na dependência do plutonismo, sendo epigenéticas (a mineralização não é contemporânea da rocha encaixante) - era a escola Plutonista.
É já no séc. XX, com Launay, para quem os metais provinham da barisfera, sendo transportados para a superfície da crusta por fluidos voláteis e aquosos, que nasce a METALOGENIA como Ciência. Nascem as bases fundamentais da moderna análise metalogenética, com a introdução dos conceitos de Província e de Época Metalogenética.
OBJECTIVO DO RAMO DAS CIÊNCIAS GEOLÓGICAS “JAZIGOS MINERAIS “
O ramo das ciências geológicas apelidado correntemente, em Portugal, de JAZIGOS MINERAIS tem por objecto o estudo dos jazigos minerais que ocorrem na zona da crusta terrestre acessível e susceptível de exploração. Ocupa-se da geologia dos depósitos minerais, da sua mineralogia e textura, da morfologia do depósito e da sua génese.
Os anglo-saxões chamam-lhe "Economic Geology" e, mais raramente, "Mining Geology". Em França teve certa voga o termo metalogenia proposto por DE LAUNAY; contudo, o uso deste nome só é correcto quando referido ao estudo dos jazigos minerais dos elementos metálicos. Mais recentemente, tem tido largo uso, ainda em França, o termo "Gitologie" que, todavia, esbarra com dificuldades de tradução.
Evidentemente, todas estas designações se prestam a crítica, por pouco explícitas umas (como seja geologia mineira), por muito restritivas outras (como seja metalogenia). Utilizar-se-á, de preferência, a designação de Geologia dos Jazigos Minerais por ser mais compreensiva e estar mais de acordo com a finalidade deste ramo das ciências geológicas.
O estudo da geologia dos jazigos minerais pretende reconstituir a história da formação dos jazigos e deduzir as leis da respectiva repartição na crusta terrestre, o que procura alcançar pelo conhecimento dos processos genéticos, que presidiram à sua formação, e dos processos evolutivos, que os afeiçoaram até ao estado em que se encontram na actualidade.
Os métodos de trabalho são os da Geologia Geral ou Geologia Física aplicados, neste caso, a uma série restrita de constituintes da crusta terrestre. O facto de as entidades, objecto de estudo, serem mais limitadas que em Geologia Geral e, por outro lado, serem estudadas, em regra, com finalidade lucrativa permite desenvolver a aplicação de técnicas onerosas que raramente podem ser empregadas, de modo generalizado, em estudos de Geologia Geral.
Compreende-se, portanto, que é impossível empreender o estudo dos jazigos minerais sem o conhecimento prévio dos princípios e dos métodos de trabalho da Geologia Geral. De contrário, os resultados obtidos serão sempre incertos senão francamente erróneos, facto que, dado o volume de capitais indispensáveis ao desenvolvimento de qualquer indústria mineira, pode conduzir a resultados catastróficos.
É o estudo da geologia dos jazigos minerais que possibilita a limitação e a orientação dos trabalhos de prospecção mineira e, ainda, a determinação das características qualitativas e quantitativas das ocorrências das massas minerais que constituem os jazigos minerais.
As primeiras permitem realizar uma prospecção eficaz e económica, as últimas fornecem os elementos indispensáveis para a resolução do problema da explorabilidade dos jazigos, isto é, habilitam a resolver racionalmente os dois problemas práticos fundamentais que se põem à geologia dos jazigos minerais: descoberta de jazigos e respectiva explorabilidade. Definiu-se o objectivo da geologia dos jazigos minerais; é, contudo, necessário concretizar melhor a natureza das entidades de que aquela se ocupa, embora todos tenham uma noção empírica do que sejam jazigos minerais.
1.2. NOÇÃO DE JAZIGO MINERAL, MINÉRIO, RECURSO E RESERVA GEOLÓGICOS
Os conceitos de jazigo mineral e de minério, embora de uso corrente, são difíceis de precisar e não existe, ainda hoje, uma definição verdadeiramente científica para eles.
A definição mais divulgada diz ser jazigo mineral toda a massa mineral cuja exploração é susceptível de ser remuneradora.
RAGUIN (1961, p.1) diz: "minérios são as substâncias minerais naturais susceptíveis de exploração e venda com lucro para serem utilizadas, em geral, depois de uma elaboração industrial física ou química".
A dificuldade, que apresenta a definição de jazigo mineral e de minério, reflecte-se na legislação mineira dos diversos países.
Assim, a legislação portuguesa (Decreto nº 18713, de1 de Agosto de 1930, art. 3°), sem dar qualquer definição de jazigo mineral ou de minério, classifica aqueles nas seguintes classes:
1ª classe - Jazigos minerometalíferos: secreções, filões, camadas, massas e aluviões;
2ª classe - Depósitos não metalíferos de grafite, antracite, hulha, lignite, turfa, amianto, talco, salgema, sais de potássio, fosfatos, nitratos, caulino e tripoli;
3ª classe - Depósitos de hidrocarbonetos e substâncias betuminosas.
Como tal classificação não encerra uma definição de Jazigos Minerais, embora apresente uma classificação dos mesmos, a legislação (Decreto citado, art. 4°) prevê o caso de poderem vir a ser adicionados outros jazigos minerais aos acima citados, portanto outros minérios aos enumerados (SERRANO, 1969, p.19-22).
F. BLONDEL (1950) criticou as noções de jazigo mineral e de minério, chamando a atenção para o que há de absurdo em definir aqueles conceitos sobre considerações económicas. Um dado jazigo mineral ser ou não economicamente explorável é uma conclusão a que só se chega pelo respectivo estudo.
A definição de jazigo mineral deve, segundo BLONDEL, basear-se nos caracteres intrínsecos do próprio jazigo e não na situação geográfica, condições de mercado e tantos outros factores aleatórios que são introduzidos, na definição clássica, pela condição de ser economicamente explorável.
Entre os caracteres intrínsecos à natureza dos jazigos minerais faz, aquele autor, sobressair a anomalia que constituem as concentrações minerais que dão origem àqueles, pois tais concentrações apresentam-se como o resultado de fenómenos particulares, daí as raras probabilidades de existência e ser necessário utilizar métodos especiais de pesquisa para a evidenciar.
É esta característica particular que faz proteger por legislação especial os jazigos minerais e, baseando-se nela, BLONDEL (1950, p.19) propõe, como tentativa para uma melhor definição:
Jazigo Mineral é uma massa mineral bastante rara e bastante anormal para que a sua pesquisa necessite de métodos especiais.
Trata-se ainda de uma definição empírica e prática, como o próprio autor reconhece, mas que tem a vantagem de afastar as condições económicas e definir essas massas minerais pelas características que na realidade têm permitido enumerar as substâncias consideradas minérios: a raridade e a anormalidade da sua concentração na zona da crusta terrestre acessível à pesquisa.
Aceitando aquela definição para jazigo mineral, pode definir-se (BLONDEL, 1950, p.19) minério nos seguintes termos:
Minérios são aquelas substâncias minerais naturais que encerram um elemento químico em teor relativamente elevado ou sob forma química facilmente redutível ou as que apresentam propriedades físicas raramente realizadas na crusta terrestre.
O conceito de minério encerra, como se viu, a noção de concentração anormal. Esta noção é referida, em regra, ao teor normal dos elementos químicos na crusta terrestre ou seja ao respectivo clarke. O conceito de concentração é, pois, essencialmente de natureza química e pode ser definido como traduzindo a concentração química anormal de um dado elemento químico em relação ao respectivo teor médio na crusta terrestre (ROUTHIER, 1963,p.15).
A concentração exigida, de um dado elemento, para que origine um jazigo mineral é muito variável. Em regra, essa concentração é da ordem de várias centenas a vários milhares do valor do respectivo clarke (MASON, 1958, p.47).
Deve, no entanto, notar-se que o sódio e o magnésio são extraídos da água do mar onde a sua concentração é inferior ao respectivo clarke (Tabela 1.1).
|
Elemento |
Clarke |
Elemento |
Clarke |
Elemento |
Clarke |
|
Alumínio |
81 300 |
Chumbo |
13 |
Prata |
0,07 |
|
Antimónio |
0,2 |
Lítio |
20 |
Tântalo |
2 |
|
Berílio |
2,8 |
Manganésio |
950 |
Estanho |
2 |
|
Crómio |
100 |
Mercúrio |
0,08 |
Urânio |
1,8 |
|
Cobalto |
25 |
Molibdénio |
1,5 |
Vanádio |
135 |
|
Cobre |
55 |
Níquel |
75 |
Tungsténio |
1,5 |
|
Ouro |
0,004 |
Nióbio |
20 |
Zinco |
70 |
Tabela 1.1 – Concentração, em clarke, para os jazigos minerais de alguns metais.
Quando se encontra um minério, existe alguma dificuldade em distinguir, a priori, se estamos perante um jazigo mineral ou uma simples ocorrência esporádica. Esta dificuldade só poderá ser esclarecida após uma fase de estudo mais ou menos longa.
Os recursos geológicos são bens naturais existentes na crusta terrestre susceptíveis de aproveitamento económico no presente ou, admissivelmente, no futuro. São recursos geológicos as substâncias minerais (minérios metálicos, recursos energéticos, as rochas industriais e minerais não metálicos), encaradas como recurso não renovável e, por tal razão, são geridas como um stock. Os recursos hidrominerais e geotérmicos são encarados como recursos renováveis sendo, por isso, geridos como um fluxo.
Existe enquadramento jurídico específico para cada recurso geológico atrás citado, como foi abordado em aulas anteriores. DEPÓSITO MINERAL é definido pelo Decreto-Lei nº 88/90 do estado português como a ocorrência mineral existente no território nacional e nos fundos marinhos da ZEE que, pela sua raridade, alto valor específico ou importância, na aplicação em processos industriais das substâncias nelas contidas, se apresentar com especial interesse económico e como tal seja qualificada.
Esta classificação pode ser aplicada a várias escalas, desde a global até à do distrito mineiro ou à do simples depósito mineral.
Designa-se por:
• recursos totais - os recursos identificados ou conhecidos e aqueles que, embora ainda não descobertos, se presume existirem com base em evidências geológicas.
• recursos identificados - corpos bem definidos de um recurso cuja localização, qualidade e quantidade são conhecidas ( já temos determinações analíticas, cálculos).
• recursos não identificados - corpos mal definidos dum recurso que se supõe existir com base no conhecimento geológico regional e teórico.
• RESERVA – parte dos recursos conhecidos que podem no momento ser legal e economicamente explorados. O conceito de Reserva é um conceito dinâmico porque para além das propriedades intrínsecas da mineralização e da própria jazida, tem ainda em conta outros factores de natureza tecnológica, económica (ex. a cotação em mercado das substâncias é um dos factores mais determinantes) e política para que esse depósito possa ser considerado um jazigo e dar lugar a uma exploração mineira.
• Reservas indicadas ou prováveis - aquelas cuja tonelagem e teor foram calculadas com base em amostragem ainda escassa.
• Reservas inferidas ou possíveis - aquelas cujas estimativas foram baseadas quase unicamente nas características geológicas regionais e com muito poucas determinações analíticas.
• Os recursos sub-económicos - aqueles que não sendo hoje reservas, podem vir a sê-lo no futuro como resultado de alterações económicas ou legais.
• Os recursos paramarginais - porções dos recursos sub-económicos que se encontram no limite de se tornarem economicamente produtivos ou ainda não são apenas por questões legais ou políticas.
• Os recursos submarginais são porções dos recursos sub-económicos que necessitam de um aumento substancial do preço no mercado ou do uso de tecnologia mais avançada e que permita a rentabilização dos custos de exploração.
• Os recursos não descobertos hipotéticos são os que, embora ainda não descobertos, espera-se que existam numa dada região já conhecida e de acordo com a geologia da região já conhecida.
• Os recursos especulativos são os que podem ocorrer em determinados tipos de depósitos em locais geologicamente favoráveis, quer em depósitos já conhecidos, quer em depósitos ainda desconhecidos.
MINÉRIOS E GANGAS
A par do conceito de jazigo mineral, vamos analisar os conceitos de ocorrência e de mineralização.
A ocorrência exprime simplesmente a existência de um mineral ou rocha num dado local, enquanto mineralização implica a existência de minerais "anormais" em relação às rochas encaixantes de tipo comum (ROUTHIER, 1963, p.15).
São, portanto, conceitos mais latos que o de jazigo mineral e cujo emprego evitará a utilização imprópria do de jazigo mineral. É, semelhantemente, bastante útil a utilização do termo corpo mineralizado (ore body) significando uma massa geológica constituída por um agregado de minérios e outros minerais (ganga) que se individualiza no meio que o encerra.
Uma mineralização poderá corresponder a um corpo mineralizado e um jazigo mineral corresponderá sempre a um ou mais corpos mineralizados.
Uma vez precisada, tanto quanto possível, a noção de minério, verifica-se que ela, incidindo sobre entidades que tanto são minerais como rochas, é restritiva. Por exemplo, conhecendo-se para cima de duas centenas de minerais de ferro somente cerca de meia dúzia pode ser considerada como minérios de ferro.
Por outro lado existem, frequentemente, vários minérios para um mesmo elemento, como a scheelite e a volframite para o tungsténio. Também se encontram minérios que fornecem mais que uma substância útil; é o caso das arsenopirites auríferas, das galenas argentíferas, etc.
Como regra muito generalizada, os minérios não se apresentam em concentrações monominerais, mas sim associados a outros minerais. Ao conjunto de minerais que acompanham os minérios nas suas ocorrências e que não são objecto de recuperação dá-se, no caso dos jazigos de substâncias metálicas, o nome de ganga; nos jazigos de substâncias não metálicas é mais corrente, para o mesmo material, a designação de estéril. Esta diferença entre ganga e estéril não é, todavia, absoluta e depende muito das regiões mineiras consideradas.
Um dado minério que é explorado num jazigo pode ser incluído, num outro jazigo, na ganga por ocorrer, por exemplo, em percentagem tal que torna a sua recuperação anti-económica.
Deve notar-se que, por vezes, alguns minérios podem ser recuperados como coprodutos. Quer dizer, a recuperarão do ou dos minérios, que justificam a exploração mineira, pode facilitar a recuperação de certos minérios que só por si não justificariam a exploração. Por exemplo nas minas da Panasqueira e da Borralha, o tratamento por flutuação, usado para obter os concentrados primários de volframite, permitiu o aproveitamento da calcopirite argentífera como coproduto. Noutras circunstâncias, os minérios de um determinado metal podem encerrar outros elementos metálicos na sua constituição, susceptíveis de separação e aproveitamento por tratamento metalúrgico, reservando-se para esse caso a designação de subproduto.
É costume chamar, ainda, minério ao conjunto do minério, propriamente dito, mais a respectiva ganga, o que se presta a confusões. Os anglo-saxões fazem a distinção chamando aos minérios, no sentido em que se definiram atrás, ore minerals e ao conjunto minério mais ganga simplesmente ore - LlNDGREN, 1933, p.13).
Não existe, em português, nome genérico que permita uma distinção clara. Deve, pois, procurar evitar-se o uso do termo minério noutra acepção que não seja a precisa e quando a isso se for obrigado, é sempre conveniente explicitá-Io.
Os minérios, aliás qualquer mineral, podem originar-se quer em consequência de fenómenos de origem profunda, quer em consequência de fenómenos de origem superficial; no primeiro caso designam-se por minérios hipogénicos e no último por minérios supergénicos.
Os minérios podem ainda designar-se por primários ou secundários. Se ocorrem no meio em que se originaram dizem-se primários; se, pelo contrário, ocorrem num meio estranho àquele em que se originaram, embora não tenham sofrido qualquer modificação para além de uma individualização, mais ou menos completa, e de uma possível divisão mecânica, dizem-se secundários.
Esta última classificação pode, evidentemente, aplicar-se a qualquer mineral, contudo é de uso corrente para os minérios metálicos.
As duas classificações de minérios, acabadas de citar, não são equivalentes. A primeira baseia-se no processo de formação e a última no respectivo modo de ocorrência. Assim, um minério hipogénico ou supergénico pode ocorrer no meio em que se originou ou num outro meio; no primeiro caso será hipogénico ou supergénico e primário, no segundo caso será hipogénico ou supergénico e secundário.
Na composição das gangas pode entrar uma grande variedade de minerais; aqueles que caracterizam, quer pela frequência, quer pela abundância, um dado tipo de ganga são, todavia, em número reduzido. Daqui resulta poderem classificar-se os tipos de gangas mais frequentes num número muito restrito:
o gangas siliciosas (quartzo, calcedónia, jaspe)
o gangas carbonatadas (calcite, dolomite, siderite)
o gangas sulfatadas (barita)
o gangas fosfatadas (apatite)
o gangas silicatadas (feldspatos, micas, granadas, minerais argilosos, etc.)
o gangas rochosas (fundamentalmente constituídas por elementos das rochas encaixantes)
Tal como se verá durante as aulas práticas, as gangas são bons indicadores dos ambientes de formação das mineralizações, nomeadamente sobre as condições de pressão (profundidade), temperatura e composição dos fluidos envolvidos.
1.4 CLASSIFICAÇÃO DOS JAZIGOS MINERAIS
Dada a multiplicidade de jazigos minerais, impõe-se proceder ao agrupamento daqueles que pareçam semelhantes, de modo a definirem-se tipos ou categorias que sejam facilmente referenciados e identificados.
É esta finalidade que se procura com a classificação ou sistemática de jazigos minerais. Esta pretende, portanto, definir tipos, tanto quanto possível homogéneos, que facilitem o estudo e permitam tirar, por analogia, do conhecimento de uns ensinamentos que ajudem na prospecção, pesquisa e exploração de outros.
Embora o objectivo da classificação seja sempre aquele, esta pode basear-se em critérios diferentes e, dentro de um mesmo critério, pode apresentar variações consoante o autor, prova evidente de que nenhuma é inteiramente satisfatória.
Teoricamente, seriam as classificações genéticas as que melhor poderiam corresponder ao fim em vista, uma vez que elas deveriam explicar a concentração anormal, que está na origem dos jazigos minerais, e as relações entre aquela e o meio geológico ambiente.
Na realidade, o conhecimento da génese dos jazigos minerais é muito desigual e está longe de ter atingido a profundidade indispensável para o estabelecimento de uma tal classificação. Daí, o deparar-se com várias classificações genéticas, traduzindo a tendência de escolas, todas elas sujeitas a crítica mais ou menos fácil.
As dificuldades de estabelecimento de uma classificação genética traduzem-se bem no facto de entre os tratados clássicos só o de W. LlNDGREN (1933) e o de H. SCHNEIDERHÖHN (1941) seguirem, na parte descritiva, as classificações genéticas propostas pelos respectivos autores. Já os de A. M. BATEMAN (1950) e de E. RAGUIN (1961), depois de discutirem e proporem classificações genéticas, mau grado o alto interesse científico e mesmo prático destas, descrevem os jazigos seguindo uma classificação utilitária, o primeiro, e uma classificação químico-geológica, o segundo.
Classificações morfológicas (geométricas)
Um dos primeiros critérios, em que se pretendeu basear a classificação dos jazigos minerais, foi o da forma, isto é, o das características morfológicas. Este facto explica-se pela importância primordial que tem, para a escolha do método de lavra, a forma do jazigo a explorar. Daí a razão de tal critério se ter imposto desde muito cedo.
Se estas classificações, só por si, pouco podem adiantar para o conhecimento da origem e da formação dos jazigos minerais, porquanto se baseiam numa característica puramente extrínseca, que se poderia dizer acidental (GRODDECK, 1884, p.11), são, contudo, indispensáveis para a Lavra de Minas.
Por esta razão e porque prestam relevantes serviços na individualização dos jazigos minerais, sem a pretensão de dar uma classificação morfológica coerente e completa, definem-se os termos mais correntes.
Massas - são grandes corpos mineralizados de forma irregular, que tanto podem apresentar um pendor qualquer como não ser possível definir neles tal característica morfológica .
Filões - são corpos mineralizados de forma tabular ou lenticular, mais ou menos acentuada, que podem apresentar qualquer pendor (Fig.1.2 e Fig. 1.3). Caracterizam-se pela desproporção existente entre o comprimento e a largura, por um lado, e a espessura, por outro; normalmente esta última é praticamente desprezável em relação àquelas.
Tomando o pendor para critério secundário de classificação, podem considerar-se os seguintes tipos de filões:
AGUARDAR A TABELA
Os limites de pendor, que determinam esta classificação dos filões, são determinados pelo campo de aplicabilidade dos diversos métodos de lavra.
Atendendo às relações geométricas entre os filões e a rocha encaixante, quando esta é estratificada ou apresenta xistosidade, os filões podem ainda classificar-se em:
o Discordantes, quando cortam os planos de estratificação ou de xistosidade das rochas encaixantes,
o Concordantes, filões-camada ou sills, quando se apresentam interestratificados ou concordantes com a xistosidade; a designação de filão-camada é mais reservada para o caso de filões interestratificados.
Amas - quando a espessura de um filão se torna notável, em relação à respectiva extensão; esta designação é sobretudo empregada em França.
Camadas - é a designação atribuída aos jazigos exógenos, de configuração tabular e interestratificados; as camadas podem considerar-se como correspondendo a filões estratificados de extensão muito grande e de configuração tabular.
Veios ou venulações - são filões de extensão muito reduzida e de pequena espessura (no máximo alguns centímetros).
Sistema filoniano - esta designação é atribuída, com muita generalidade, a um conjunto de filões sensivelmente paralelos entre si e intersectando-se mutuamente é, ainda, frequentemente, atribuída contemporaneidade aos filões de um sistema.
Esta definição de sistema filoniano, embora muito corrente não parece feliz e julga-se preferível definir sistema filoniano como um conjunto de filões apresentando direcção e pendor comuns. Assim definido, corresponde mais ao que os anglo-saxões chamam "vein set" cuja tradução, para português, não se apresenta fácil a não ser por sistema de filões. Adoptando-se aquela última definição, considerar-se-á como campo filoniano o agrupamento de sistemas filonianos (Fig.1.8).
Evidentemente, o tipo mais simples de campo filoniano corresponderá a um único sistema de filões e o mais complexo a um conjunto de filões todos com direcção e pendor diferentes.
Stockwerk ou stockwork - massa de rocha densa e irregularmente fracturada, em diversas direcções, por pequenas fracturas descontínuas ao longo das quais se alojou a mineralização.
uma situação comum, de ocorrência em jazigos de sulfuretos polimetálicos (Ex. Faixa Piritosa Ibérica), onde por baixo de uma massa com morfologia lenticular pode existir uma mineralização disseminada do tipo stockwork; nesse caso, essa zona é considerada como uma zona ascensional (alimentação) de fluidos mineralizados.
Fahlband - massa de rocha metamórfica fortemente impregnada por sulfuretos finamente divididos que, por meteorização, imprimem cor castanha à rocha encaixante. É termo pouco corrente fora da Escandinávia.
Chaminé mineralizada (ore pit) - corpo mineralizado com a configuração de coluna vertical ou próxima de vertical, de secção geralmente circular ou elíptica, preenchida em regra por material brechóide . Não é frequente este tipo morfológico, de que o exemplo mais célebre é constituído pelas chaminés kimberlíticas (ou quimberlíticas) diamantíferas.
Ainda a respeito dos corpos mineralizados do tipo filão, convém salientar que a mineralização raramente se distribui de maneira uniforme; em regra, concentra-se em zonas restritas a que se dá o nome de colunas mineralizadas (oreshoots) que, quando particularmente ricas e para o caso dos jazigos filonianos auríferos e argentíferos, tomam a designação de "bonanzas".
Tais zonas, quando de dimensões muito restritas, podem constituir ninhos e bolsadas. Frequentemente, todavia, apresentam configuração alongada, daí aquela designação, e então define-se o pitch da coluna mineralizada (nome para que não há tradução) como o ângulo formado pelo eixo daquela e a direcção do pendor do filão, medido sobre o plano deste.
Embora sejam frequentes os jazigos filonianos com a mineralização essencialmente distribuída sob a forma de colunas, as causas, a que se devem estas, são ainda pouco conhecidas e certamente diversas (TATARINOV, 1955, p.42-43). Dum modo bastante genérico, pode dizer-se que têm sido atribuídas à influência do tipo e morfologia da fracturação das rochas, da natureza mais ou menos reactiva ou mais ou menos impermeável das rochas encaixantes, e das variações bruscas de temperatura e pressão das soluções mineralizantes.
Sem entrar na crítica destas influências, não se pode deixar de apontar que deve existir muita dependência entre as variações de temperatura e pressão das soluções mineralizantes e a morfologia das fracturas por onde circulam aquelas. Apresentam-se nas figuras seguintes alguns exemplos de sistemas de fracturas e de algumas mineralizações filonianas associadas.
Ainda pelo que diz respeito às classificações morfológicas, deve salientar-se que, se elas se baseiam numa característica extrínseca aos jazigos minerais, nota-se todavia tendência para que certos tipos genéticos de jazigos ocorram predominantemente sob certos tipos morfológicos.
Apresentam-se nas figuras seguintes mais algumas morfologias típicas de jazigos minerais. A propósito da, recomenda-se uma revisão sobre os modos de ocorrência correspondentes aos tipos de rochas mais comuns, pois muitos jazigos apresentam as suas morfologias típicas.
Classificações utilitárias
Um tipo de classificação muito generalizado é o que toma para critério a utilização das substâncias minerais úteis, englobando minérios e minerais e rochas industriais.
São classificações deste tipo que seguem BATEMAN (1950) e RAGUIN (1961) na parte descritiva dos respectivos tratados sobre jazigos minerais e que são largamente empregadas nos estudos de carácter económico. Embora sejam de estabelecimento e emprego relativamente simples, têm o inconveniente de se basearem num critério estranho a natureza do jazigo e, ainda, conduzir à divisão de um mesmo minério por várias secções em função da utilização considerada.
Por outro lado, tais classificações apresentam, ainda, o grave inconveniente de não fazer realçar as relações, por vezes muito estreitas, que existem entre jazigos de substâncias diferentes.
Este tipo de classificação é, fundamentalmente, uma classificação utilitária de substâncias minerais.
Entre os recursos metálicos podemos ainda considerar :
• os metais preciosos ou nobres (ouro, prata, platina, paládio, ródio, irídio, ósmio)
• os metais ferrosos (ferro, manganês, níquel, cobalto, molibdénio, crómio, vanádio, volfrâmio)
• os metais base não ferrosos (cobre, chumbo, zinco, estanho, mercúrio, cádmio)
• os metais leves (alumínio, lítio, magnésio, titânio)
• os metais raros com usos especiais (berílio, bismuto, césio, gálio, germânio, zircónio)
De entre os recursos não metálicos consideram-se:
• os minerais industriais que incluem grande variedade de produtos: os de custo baixo, como por exemplo a areia, areão, as britas e os de custo elevado como por exemplo o diamante industrial (usado como abrasivo)
• os minerais fertilizantes (fosfatos e outros)
• os minerais para a indústria vidreira (areias siliciosas, feldspato, argila)
• os minerais para a indústria química (halite, silvite, boratos, trona)
• os isolantes (asbestos, vermiculite)
• os minerais para a indústria cerâmica (argilas, feldspato, quartzo)
• os minerais usados como filtros (areias, zeólitos)
• e outros.
Classificações Genéticas
As classificações genéticas são as que oferecem maior interesse científico porquanto o perfeito conhecimento do modo de formação dos jazigos minerais permitiria não só compará-los e agrupar em bases gerais válidas para todos como, ainda, prever, para uma dada região, quais os tipos de jazigos que nela poderiam ocorrer; sobretudo, desde que se tenha em conta os dados geotectónicos ao estabelecer aquelas classificações.
É, evidentemente, o processo de formação o critério fundamental para o estabelecimento das classificações genéticas, enquanto os caracteres químicos e mineralógicos fornecem os critérios para as subdivisões.
São, como era de esperar, as classificações mais difíceis de estabelecer e as mais complexas, não só devido a complexidade dos processos formativos dos jazigos mas, ainda, pelo imperfeito conhecimento que se tem da maior parte deles.
As dificuldades, que se encontram, traduzem-se bem no facto de entre os tratados clássicos, depois de reconhecida a enorme importância das classificações genéticas, só o de LlNDGREN (1933) e o de SCHNEIDERHÖHN (1941) seguirem, na parte descritiva as classificações propostas pelos autores.
As dificuldades encontradas no estabelecimento das classificações genéticas têm conduzido ao desenvolvimento de classificações geológicas, isto é, tomando para critério de base os fenómenos geológicos fundamentais da evolução da crusta terrestre.
Antes de se examinarem estas classificações, definem-se alguns termos de classificação genética, de carácter geral.
Uma classificação genética muito simples é aquela que considera, simplesmente,
o Jazigos primários, originais o Jazigos secundários, derivados
Serão incluídos na primeira categoria aqueles que conservam as características originais e na segunda os que sofreram modificações que lhes alteraram aquelas. Veja-se a Fig. 1.17 para o caso de jazigos auríferos.
Uma outra classificação genética ainda muito geral que, por assim dizer, se apresenta como uma extensão da classificação genética das rochas, é aquela que considera os seguintes grupos fundamentais:
o Jazigos magmáticos
o Jazigos sedimentares
o Jazigos metamórficos
Tal classificação encontra-se, de resto, sempre implícita em qualquer classificação genética dos jazigos minerais.
No primeiro grupo incluem-se todos os jazigos supostos relacionados com o magmatismo, isto é, jazigos profundos, hipogénicos; o respectivo estudo é baseado em possíveis relações com magmas de que teriam derivado. Todavia, a designação magmática é pouco feliz porquanto existem muitos jazigos cujas relações com o magmatismo são muito obscuras, se é que existem, sem que se possa por em dúvida uma origem profunda para os mesmos.
A dificuldade que se apresenta é semelhante à que supõe para as rochas magmáticas pelo que será preferível designá-los por jazigos endógenos, salientando-se deste modo só a atribuição de origem profunda.
Na segunda categoria entram não só os jazigos, verdadeiramente sedimentares mas ainda outros provenientes de fenómenos de evaporação, de acções de alteração meteórica, etc., quer dizer, entram todos aqueles jazigos cuja formação se deve a fenómenos ocorrendo à superfície da Terra.
É, pois, preferível, tal como para as rochas correspondentes, designá-los por jazigos exógenos, salientando unicamente a origem externa dos respectivos processos formativos, relegando para uma primeira subdivisão a classificação baseada naqueles processos.
A última categoria engloba os jazigos que, posteriormente à sua formação original, sofreram quaisquer modificações devidas a processos metamórficos e aqueles que se originaram devido ao próprio processo metamórfico. Quer dizer, têm de se considerar os dois tipos:
o Jazigos metamorfisados
o Jazigos metamórficos propriamente ditos
Na realidade, a primeira categoria é pouco importante e não deve constituir um grupo independente nem ser incluído no dos jazigos metamórficos, pois os minérios raramente sofrem outras alterações, por metamorfismo, além de texturais.
Em contrapartida, o último tipo é já importante pela existência de um certo número de jazigos minerais de substâncias não metálicas cuja formação se deve a processos de metamorfismo regional.
O facto de os jazigos metamorfisados não serem originados pelos processos metamórficos aconselha a que sejam incluídos nos respectivos grupos, endógenos ou exógenos, e a limitar a designação de jazigos metamórficos àqueles que são de facto resultado dos processos metamórficos.
Resumindo, tem-se, como resultado de uma primeira classificação genética, baseada nos grandes processos de formação dos constituintes da crusta terrestre, os seguintes grandes grupos:
o Jazigos endógenos
o Jazigos exógenos
o Jazigos metamórficos
Embora estas designações se apresentem mais apropriadas que as primeiras não se pode deixar de apontar a incongruência que existe entre jazigos endógenos e metamórficos pois ambos resultam de processos profundos e, muito provavelmente, até certo ponto correlacionados entre si.
Estas dificuldades de nomenclatura representam uma herança da Petrografia que não é possível remediar totalmente e que o melhor é ainda procurar abandonar.
Características definidoras dos jazigos minerais
Viu-se que qualquer tipo de classificação oferece dificuldades que conduzem a classificações pouco correctas ou coerentes, mesmo do ponto de vista do critério seleccionado para base da classificação. Este facto resulta da complexidade oferecida pelos jazigos minerais e do conhecimento multo variável dos respectivos processos genéticos, agravado pela herança de uma nomenclatura nem sempre feliz.
Antes pois de se passar ao exame das classificações geológicas, que oferecerão o esquema para a exposição do estudo dos jazigos minerais, vão examinar-se as características que realmente permitem caracterizar os diversos tipos de jazigos.
Estas características (ROUTHIER, 1963, p.44) devem agrupar-se em características intrínsecas ou próprias do jazigo e características extrínsecas ou próprias do ambiente que rodeia o jazigo e que, sem dúvida, podem imprimir a este certos aspectos peculiares.
Características intrínsecas
As características intrínsecas ou próprias de um jazigo, isto é aquelas que traduzem a natureza deste são: a paragénese, a sucessão mineral, a alteração superficial, a composição química e os teores, a reserva de minério ou de metal, e a possível relação entre teores e reservas.
A paragénese de um jazigo mineral é o conjunto dos minerais (minérios e gangas) que o constituem e que resultaram de um mesmo processo geológico ou geoquímico. A paragénese traduz-se, portanto, pela enumeração das espécies minerais constituintes do jazigo.
Deve ter-se em atenção que a identificação dos minerais constituintes de um jazigo traduz o resultado de um estudo progressivo e que, iniciando-se a escala macroscópica, se deve continuar à microscópica. É um trabalho que nunca se deve considerar finalizado, pois a utilização de meios mais poderosos de investigação ou exame de outros sectores do jazigo podem sempre vir a revelar a presença de outras espécies mineralógicas.
Se se deve ter sempre presente aquele carácter provisório da paragénese, não se pode esquecer, todavia, que ele se refere ao facto de a paragénese ser conhecida de modo mais ou menos completo e não ao rigor da determinação das espécies presentes. Esta, em princípio, pode e deve ser sempre correcta.
Outra observação, que se impõe, diz respeito à conveniência em distinguir a escala ou escalas a que a paragénese foi determinada, porquanto se a escala microscópica garante maior pormenorização, a macroscópica permite salientar o conjunto de minerais que, pela percentagem, constituem certamente a quase totalidade da massa do jazigo e que, por esse facto, têm de ter importância particular.
A sucessão mineral ou cronológica é a ordem de deposição ou cristalização dos minerais constituintes de um jazigo mineral, isto é, a ordem de formação dos minerais da respectiva paragénese durante o desenrolar do processo geológico ou geoquímico que a originou.
A determinação da sucessão mineral, baseando-se em critérios morfológicos, fundamentalmente texturais e estruturais é trabalho muito delicado e que mesmo realizado à escala microscópica, nem sempre pode ser considerado definitivo.
Esta característica é fundamental, evidentemente, para os jazigos originados ou modificados pela meteorização e, além disso, oferece importantes elementos para a prospecção mineira na medida em que pelas características da alteração superficial se pode inferir a natureza da composição mineralógica da parte do jazigo não alterada.
Neste caso, as relações determinadas à escala macroscópica oferecem sempre maior confiança por corresponderem mais facilmente a uma observação tridimensional do que as determinações a escala macroscópica (sobre lâmina delgada ou superfície polida). Há todo o interesse em nunca passar ao exame em menor escala, mau grado o emprego de meios mais poderosos de observação, sem ter procurado primeiramente esgotar as possibilidades oferecidas pelo exame em maior escala.
É devido às dificuldades, frequentemente encontradas na interpretação das relações texturais e estruturais entre os minerais de uma paragénese, que qualquer sucessão mineral conserva sempre um certo carácter hipotético, embora a sucessão possa encontrar-se perfeitamente determinada para uma parte mais ou menos importante daqueles.
Verifica-se, frequentemente, o uso de paragénese como significado de sucessão mineral, sobretudo na literatura americana. Tal emprego deve ser evitado, não só por estar em desacordo com a definição original de paragénese mas porque é de toda a conveniência evitar confusão entre as duas características que, como se viu, têm significados distintos; muito especialmente, deve terse em conta que paragénese corresponde a uma identificação de factos geológicos que exige rigor e em que não tem cabimento qualquer hipótese, enquanto sucessão mineral, apesar de ainda ter como base a observação de factos geológicos (texturas e estruturas), não se limita à observação destes mas resulta de uma elaboração dos mesmos que contém inevitavelmente uma parte mais ou menos importante de hipótese.
A alteração superficial é aqui referida no sentido de alteração meteórica (weathering), isto é, todo o processo de alteração que pode sofrer um jazigo mineral por acção dos agentes da meteorização na zona em contacto e próxima da superfície terrestre. São os agentes da meteorização que provocam a alteração, no entanto, as formas assumidas e os produtos resultantes dependem da natureza do jazigo pelo que aquela se pode considerar uma característica específica. Pode fazer-se o reparo de que para haver alteração superficial é indispensável que o jazigo atinja a zona de alteração superficial e que se ele não a atingir não haverá lugar para fenómenos de alteração superficial. O reparo é pertinente mas não se deve esquecer que nem por isso tal jazigo deixa de dar lugar a um certo tipo de alteração, que lhe é característico, desde que seja alcançado pelos processos de meteorização.
Características extrínsecas
A composição química está relacionada com a paragénese mas distingue-se desta por se referir à composição do jazigo, aqui fundamentalmente referida aos minérios, do ponto de vista químico e não do mineralógico.
A importância desta característica é evidenciada se se tiver em atenção que os jazigos de um dado metal podem apresentar este sob forma química diversa, por exemplo sob a forma de sulfuretos, de óxidos, de carbonatos, de silicatos, etc., portanto diferindo radicalmente entre si sob o aspecto químico. É, pois, uma característica própria do jazigo que tem de se ter em consideração.
Relacionados com esta característica encontram-se teores em minério ou em metal que, evidentemente, também caracterizam ou individualizam os jazigos. Estes teores podem variar dentro de limites bastante largos dentro de um mesmo jazigo mas o teor ou teores médios são característicos do jazigo.
As reservas de minério ou de metal são também uma característica intrínseca visto que é o jazigo que determina a quantidade de substância útil; esta quantidade não está dependente de factores externos mas é, sobretudo, do ponto de vista económico que esta característica é importante, pois que são as reservas de minério ou de metal, num dado jazigo, que definem o seu interesse económico.
Apesar do carácter essencialmente económico desta característica, tem ainda interesse do ponto de vista da classificação ou agrupamento de tipos de jazigos porque há jazigos de uma mesma substância que se distinguem por a teores baixos corresponderem elevadas reservas e a teores altos corresponderá baixas reservas, de modo muito generalizado.
Realmente, o valor económico de um jazigo resulta da conjugação das duas características (teor e reservas); uma só não determina o valor económico do jazigo.
As características extrínsecas são aquelas que, dependendo de factores estranhos ao jazigo, lhe imprimem certas características. São fundamentalmente características do meio ambiente ou seja do "invólucro" do jazigo e compreendem (ROUTHIER, 1963, p.44): natureza litológica das rochas encaixantes, morfologia do jazigo em relação com as estruturas das rochas encaixantes, rochas plutónicas ou vulcânicas próximas, idade do jazigo e história geológica da região.
A importância da natureza litológica das rochas encaixantes reside nas possíveis relações entre a mineralização e as rochas encaixantes, relações não só físicas e mecânicas mas até químicas, conforme se há fenómenos de inter-reacção entre a mineralização e as rochas encaixantes.
A morfologia dos jazigos, característica particularmente importante do ponto de vista do reconhecimento e da exploração mineira, é-lhe evidentemente imposta pela estrutura das rochas encaixantes. Deste modo, o estudo da morfologia dos jazigos minerais apresenta-se intimamente associado e mesmo dependente do estudo estrutural das rochas encaixantes. Daí a importância do estudo do controlo estrutural exercido pelas estruturas das rochas encaixantes na distribuição e localização das mineralizações, portanto dos jazigos.
A presença próxima de rochas plutónicas ou vulcânicas pode oferecer grande interesse no estudo dos jazigos endógenos e de certos jazigos estratiformes na medida em que podem estar relacionados com elas, isto é, terem resultado do processo de intrusão daquelas rochas ou de manifestações vulcânicas.
O interesse desta característica para os jazigos exógenos é simplesmente indirecto. Pode interessar para eliminar áreas impróprias para certas mineralizações ou para determinar, no caso dos jazigos aluviais, a distância entre a origem da substância útil e os locais de acumulação. Os jazigos, como se viu, são concentrações anómalas e a realização das condições conducentes à formação destas concentrações anómalas depende, fundamentalmente, da história geológica da região. É a evolução geológica que, em dados momentos, origina as condições propícias para a concentração anómala de certas substâncias; em última análise, portanto, os jazigos minerais estão dependentes e são mesmo consequência da história geológica da região.
Por outro lado, o estudo geológico da Terra mostra que a ocorrência daquelas oportunidades não foi uniforme. Verifica-se que houve períodos da evolução da crusta terrestre mais ou menos propícios para a formação de um dado tipo de concentrações. Portanto, no estudo de um jazigo tem também importância a determinação da respectiva idade para a definição das épocas mais propícias ou menos propícias para a formação de dadas concentrações.
Passadas em revista as características fundamentais dos jazigos, convém salientar que no estudo geológico são de primordial importância, pelo que respeita às características próprias, aparagénese, a sucessão mineral, a alteração superficial e a composição química. Quanto às características do meio ambiente são todas elas igualmente importantes e, de um modo lato, podem considerar-se todas englobadas na história geológica da região, supondo que, individualizadas, constituem aspectos particularizados daquela.
Classificações Geológicas
Com base nas características apontadas pode tentar-se uma classificação, evidentemente não genética, dos jazigos minerais que levaria a uma identificação de tipos de jazigos, com o inconveniente de ser de utilização pouco cómoda dado o elevado número de tipos a que se seria conduzido.
Aquele inconveniente resulta de que as características citadas para os jazigos têm função essencialmente analítica, conduzem à identificação de tipos elementares.
Para que uma classificação seja útil é indispensável que aqueles tipos se possam agrupar de modo que, dado um tipo de jazigo seja possível identificar o tipo geral em que se pode incluir e ter ideia das relações com os tipos próximos e, por outro lado, dado um grupo geral saber-se facilmente quais os tipos que o compõem.
É, portanto, indispensável procurar associar àquelas características um outro critério que tenha função sintética, isto é, que permita uma classificação em que os diversos tipos elementares venham colocar-se segundo uma hierarquia de unidades, cada vez de âmbito mais geral. Só uma classificação que se baseie simultaneamente em critérios de identificação e de associação poderá corresponder à finalidade que se espera de qualquer sistemática.
O critério para aquele agrupamento é lógico que se vá procurar aos fenómenos geológicos geradores da crusta terrestre e que promovem a respectiva evolução, com os quais estão necessariamente relacionados os jazigos minerais pois não são mais que um resultado particular daqueles.
Assim, deve procurar-se uma classificação que relacione, tanto quanto possível, os jazigos com os fenómenos geológicos que presidem à evolução da crusta terrestre. Por outras palavras, devem enquadrar-se os jazigos minerais nas suas relações com os grandes fenómenos geradores da crusta terrestre e com as grandes unidades litológicas (ROUTHIER, 1963, p.45); deste modo, serse-á conduzido a uma classificação natural do ponto de vista geológico, sem apresentar o inconveniente de quadros genéticos demasiado apertados que, frequentemente, se mostram em desacordo com os factos geológicos, como sucede com as classificações genéticas clássicas.
Qualquer destes ciclos menores caracteriza-se por proceder, essencialmente, a diferenciações químicas e, se aqueles já se apresentam complexos, o ciclo maior atinge a maior complexidade (RANKAMA e SAHAMA, 1950, p.243). É possível, todavia, apresentá-lo de uma maneira esquemática, que é suficiente para o fim presente, desde que se apresente com base nos conjuntos fundamentais de fenómenos geológicos.
Os fenómenos geológicos que presidem à evolução da crusta terrestre podem ser considerados como definindo um grande ciclo de diferenciação geoquímica, geralmente denominado ciclo maior, e que engloba dois ciclos menores. Um, o ciclo exógeno, compreende os fenómenos que se passam à superfície Terra e que determinam a desintegração e decomposição das rochas e formação dos sedimentos e das rochas exógenas; o outro, ciclo endógeno, compreende os fenómenos que se passam no interior da crusta terrestre e que conduzem à deformação, metamorfização e fusão das rochas e à formação das rochas endógenas.
Assim, o primeiro conjunto, indicado sob a designação de gliptogénese, compreende os fenómenos que se passam à superfície da Terra e que tendem a nivelar a superfície desta, a meteorização (desintegração e decomposição das rochas) e erosão.
Segue-se o conjunto de fenómenos que conduzem à acumulação dos materiais libertados pelos processos de gliptogénese e que vão originar os sedimentos e, através dos processos de diagénese ou lapidificação, as rochas exógenas (sedimentares).
Sob a designação de subsidência englobam-se os fenómenos que conduzem ao afundamento progressivo de áreas extensas da crusta terrestre e, por conseguinte, a acumulação de espessas séries sedimentares.
O grupo de fenómenos incluídos sob a designação orogénese é o mais complexo de todos, pois engloba a maior parte dos fenómenos que ocorrem no interior da crusta terrestre: metamorfismo regional, granitização e deformação, conduzindo à formação das rochas cristalofílicas e endógenas (eruptivas) e a emersão das cadeias de montanhas orogénicas.
Conduzindo a orogénese à formação de cadeias de montanhas, submete os materiais elaborados no interior da crusta terrestre à gliptogénese, fechando-se, deste modo, o ciclo maior.
Deve notar-se que não se referiu o vulcanismo que pode promover a introdução de material juvenil na crusta terrestre, na medida em que introduz nesta material proveniente do manto externo. Aquela omissão deve-se a que o vulcanismo pode associar-se a vários daqueles grupos de fenómenos geológicos e, dada a extrema simplicidade que se imprimiu ao ciclo maior, não era fácil tê-lo em consideração.
As concentrações minerais, que conduzem à formação dos jazigos minerais, originam-se em momentos diversos daquele ciclo, dentro do esquema geral da evolução da crusta terrestre, donde uma primeira classificação "natural" será em jazigos exógenos e jazigos endógenos, consoante o ciclo menor com que se relacionam.
Dum modo mais pormenorizado, pode estabelecer-se uma primeira grande classificação dos jazigos minerais consoante a sua dependência:
o Alteração meteórica
o Sedimentação e das rochas sedimentares
o Metamorfismo e das séries metamórficas
o Granitos e da granitização
o Rochas básicas granulares e ultrabásicas
o Vulcanismo e das rochas vulcânicas
É a classificação geral proposta por ROUTHIER (1963, p.45) e que se seguirá nas linhas gerais.
Uma classificação deste tipo só indirectamente é genética. É genética na medida em que cada um dos grupos de rochas, com que estão relacionados os jazigos, corresponde a processos genéticos diferentes mas dela não se infere, explicitamente, uma determinada origem para os jazigos relacionados com certo tipo de fenómeno ou com certo tipo de rochas.
Na dependência dos processos de alteração meteórica distinguem-se dois grupos de jazigos: os que resultam da concentração residual de uma mineralização preexistente ou mesmo de constituintes banais das rochas, em consequência de a alteração e a erosão eliminarem uma parte do material estéril (jazigos residuais), e aqueles que derivem de ,jazigos preexistentes pela acção dos processos de alteração supergénica jazigos de alteração supergénica ou de oxidação e cementação).
Com a sedimentação e as rochas sedimentares relacionam-se vários grupos de jazigos pois que os termos "sedimentação" e rochas "sedimentares" estão aqui empregados no sentido lato e tradicional; mais correcto seria utilizar "acumulação" e rochas "exógenas".
De facto, tem de se considerar dependentes daquelas os jazigos resultantes da sedimentação detrítica em que minerais densos e resistentes à decomposição meteórica se concentram por classificação mecânica (jazigos de sedimentação detrítica ou de concentração mecânica); os jazigos que resultam de precipitação química de substâncias provenientes, ainda, da meteorização das rochas e transportadas em solução pelas águas (jazigos sedimentares ou, mais correctamente, de precipitação química); finalmente, os jazigos que resultam da precipitação física ou evaporação, originando a acumulação de substâncias dissolvidas nas águas e provenientes também da destruição de rochas continentais (jazigos de evaporação ou de precipitação física.
Deve ter-se em atenção que nos jazigos de precipitação química se englobam os de precipitação bioquímica pois que as acções biológicas andam intimamente associadas às químicas, não sendo sempre fácil distinguir umas das outras. Por este motivo seria mais correcto denominá-los genericamente por jazigos de precipitação bioquímica.
Ainda dentro da categoria geral de jazigos relacionados com a acumulação e as rochas exógenas, têm de se considerar os jazigos de acumulação orgânica, englobando os jazigos de carvões e os de petróleos. Há uma certa distinção, que merece salientar-se, entre este grupo e o relacionado com a precipitação bioquímica: enquanto este é característico das plataformas epicontinentais estáveis, aquele é-o, pelo que diz respeito aos jazigos de carvões, de zonas continentais de subsidência, que não devem ser confundidas com as grandes áreas de subsidência relacionadas com a orogénese.
Todos os grupos de jazigos nomeados até aqui caracterizam-se por estarem relacionados com os fenómenos de geodinâmica externa, daí o poderem ser englobados sob a designação de jazigos exógenos.
Com o metamorfismo e as rochas metamórficas estão relacionados os jazigos metamorfizados e os metamórficos. Na verdade, o metamorfismo actua sobre qualquer tipo de rocha preexistente; pode, portanto, afectar concentrações preexistentes, modificando mais ou menos profundamente a respectiva natureza mineralógica. É, no entanto, difícil atribuir ao metamorfismo regional ou metamorfismo em sentido restrito a criação de concentrações embora possa, sem dúvida, actuar sobre uma concentração preexistente de modo tal que ela adquira composição mineralógica que lhe permita atribuir o significado de jazigo mineral.
Os maciços graníticos, podem, fundamentalmente, ser classificados em dois tipos: maciços concordantes e maciços circunscritos ou discordantes. Os primeiros, constituídos por granitos sincinemáticos ou de anatexia, portanto relacionados com o metamorfismo regional, não parecem ter grande interesse sob o ponto de vista da formação de jazigos minerais; são os últimos, constituídos por granitos pós-tectónicos, que apresentam grande interesse dado o número e variedade de mineralizações que ocorrem na sua dependência.
Apesar desta ideia sobre a impotência do metamorfismo para originar concentrações, há um aspecto que convém não perder de vista que é o de que o metamorfismo pode causar a migração de certos elementos das massas rochosas, em curso de metamorfização, e provocar, indirectamente, a respectiva concentração sobre as orlas daquelas massas.
Quanto ao metamorfismo de contacto, sobretudo quando é exercido por granitos, verifica-se que pode dar origem a concentrações de um tipo especial das rochas encaixantes, principalmente quando estas apresentam certa ou elevada reactividade química como é o caso das rochas calcárias. São exemplo os jazigos classicamente denominados pirometassomáticos ou de metamorfismo de contacto.
Destes três grupos de jazigos, relacionados com o metamorfismo e as rochas cristalofílicas, verifica-se, contudo, que nos jazigos metamorfizados a concentração se operou na dependência de outros fenómenos que não os metamórficos; estes limitam-se a modificar as características texturais e/ou mineralógicas. Nos jazigos de metamorfismo de contacto a dependência é mais das rochas que originaram o metamorfismo do que deste propriamente.
Deste modo, embora todos tenham relações com o metamorfismo, são os jazigos metamórficos, em sentido restrito, os que são aqui considerados e, como os fenómenos de metamorfismo regional estão dependentes da subsidência das massas rochosas, é no enquadramento deste fenómeno de geodinâmica interna que se localizam.
Desde longa data que se verificou a existência de uma série de mineralizações mais ou menos estreitamente relacionadas com os maciços graníticos; não é, contudo, de qualquer tipo de maciço granítico que surgem, dependentes, aquelas mineralizações.
Estas mineralizações distribuem-se em torno daqueles maciços, penetrando mesmo neles mas estendendo-se sobretudo para o exterior dos mesmos. Caracterizam-se por a ganga ser essencialmente quartzosa, o que traduz uma constante eliminação de sílica.
Foi este facto e a estreita dependência de rochas graníticas que levou o metalogenista francês L. De Launay a designar globalmente, as referidas mineralizações, por "de départ acide". Recentemente, tem sido muito utilizada a designação de mineralizações pós-magmáticas, pretendendo-se, com isso, acentuar que embora relacionadas com os referidos maciços graníticos, se terão originado depois da consolidação destes, portanto numa fase tardia da consolidação e diferenciação magmática dos mesmos. Esta designação é sobretudo utilizada, e mesmo muito corrente, na literatura russa e da Europa de Leste.
Em França, foi proposta a designação de tardimagmáticos com o mesmo significado mas explicitando melhor que se trata de mineralizações a que se atribui uma formação durante as fases mais tardias da diferenciação e consolidação dos maciços graníticos.
Estas mineralizações tendem a definir um certo zonamento, em relação ao limite dos maciços graníticos circunscritos, quer pelo que respeita ao tipo de jazigos, quer dos metais concentrados, que se terá ocasião de examinar pormenorizadamente.
A par destes Jazigos, têm de se considerar aqueles que se situam sobre os contactos com rochas carbonatadas; são os jazigos de contacto metamórfico ou pirometassomáticos, que ocorrem em skarns ou tactitos, quer dizer rochas carbonatadas transformadas em rochas essencialmente silicatadas cálcicas por acção do metamorfismo de contacto ácido, com introdução de novas substâncias.
Nestes jazigos, o zonamento referido esbate-se ou mesmo desaparece, como se a grande reactividade química das rochas carbonatadas fixasse as mineralizações na zona imediatamente a seguir ao contacto com a rocha granítica, não as deixando evoluir e fixando-as, portanto, desde muito cedo por metassomatose e a alta temperatura. São estas últimas características que levaram W. Lindgren a atribuir-lhes o nome de pirometassomáticas, que não quer dizer mais que mineralizações fixadas por metassomatismo a elevada temperatura.
Dentro das mineralizações tardimagmáticas distinguem-se os seguintes grupos: jazigos pegmatíticos, pneumatolíticos e hidrotermais, além dos de metamorfismo de contacto já referidos.
Os primeiros são considerados como resultando da consolidação de uma fase magmática residual, com carácter derradeiro, os segundos resultando da deposição de substâncias transportadas em meio essencialmente gasoso, e os últimos de deposição a partir de soluções hidrotermais.
Os jazigos tardimagmáticos estão relacionados com a orogénese, sendo portanto de carácter endógeno.
Os jazigos relacionados com as rochas básicas granulares e ultrabásicas foram, dentro das teorias genéticas clássicas, englobados num mesmo esquema que os relacionados com as rochas graníticas. As dificuldades que levanta tal correlação são, porém, muito grandes e torna-se indispensável considerá-los à parte, tanto mais que a origem magmática para as rochas básicas granulares e ultrabásicas é hoje posta em dúvida.
As mineralizações que aparecem caracteristicamente associadas a estes tipos de rochas são constituídas por metais nativos, óxidos e sulfuretos que se mostram concentrados como se se tivessem separado numa fase mais ou menos precoce do meio silicatado em que ocorrem. Daí a generalidade com que vêm referidas por jazigos de segregação (Fig. 1.21).
Uma outra particularidade destas mineralizações, que as diferencia das relacionadas com a granitização, é que não se nota qualquer indício de fuga nas mineralizações; estas encontram-se onde parecem ter-se formado.
As substâncias mais características deste tipo de jazigo são bastante mais limitadas que para o caso dos jazigos relacionados com a granitização. São, fundamentalmente, a cromite, a platina e os platinóides, a titanomagnetite, a ilmenite e sulfuretos de níquel e de cobre, que aliás não aparecem dependentes indiferentemente de qualquer tipo de rocha básica ou ultrabásica.
Na realidade, as concentrações de cromite e de platina ocorrem, sobretudo, em rochas peridotíticas e serpentínicas; estas últimas derivadas, geralmente, por metamorfismo regional das primeiras.
A titanomagnetite e a ilmenite, pelo contrário, encontram-se mais associadas a rochas feldspáticas, mesmo caracteristicamente feldspatos, como sejam os anortositos e, de um modo geral, os plagioclasitos, sempre de carácter essencialmente básico.
Os sulfuretos de cobre e de níquel encontram-se na dependência de rochas ainda feldspáticas mas não de carácter feldspático tão acentuado como as anteriores, que são os noritos, isto é, rochas compostas essencialmente por plagioclase básica e piroxena rômbica.
As mineralizações constituídas por óxidos encontram-se preferentemente no interior das massas básicas e ultrabásicas, enquanto as sulfúreas se vão encontrar preferentemente numa posição marginal, facto que levou De Launay a designar estas mineralizações por segregações periféricas.
As dúvidas que rodeiam a origem das rochas em cuja dependência surgem as referidas mineralizações, levam a que se estudem mais à luz das relações com as grandes unidades litológicas, que as encerram, do que à luz dos fenómenos geológicos geradores daquelas unidades.
Até há uns 20 anos, era dominante a ideia de que o vulcanismo desempenhava um papel extremamente secundário na concentração dos elementos; havia mesmo forte tendência para se limitar esse papel a algumas substâncias particularmente susceptíveis de sublimação, de que é exemplo característico o enxofre e os respectivos depósitos vulcânicos das solfataras.
Atribuía-se, ainda, ao vulcanismo a formação de concentrações de boro, nalgumas mineralizações bastante pobres e dispersas, e pouco mais. Presentemente, em consequência dos estudos posteriores à última guerra mundial, considera-se que o papel do vulcanismo é muito importante, não só por originar concentrações de elementos mas ainda por transportar outros de zonas mais profundas da crusta terrestre e talvez mesmo da parte externa do manto para zonas mais superficiais, onde essas substâncias são retomadas pelo metamorfismo regional e pela granitização.
As concentrações dependentes do vulcanismo podem-se agrupar em três séries:
o concentrações relacionadas com o vulcanismo básico, do tipo ofiolítico, isto é, um vulcanismo que se origina num estádio geossinclinal, portanto, um vulcanismo submarino ou, seja, ante-orogénico;
o concentrações relacionadas com o vulcanismo andesítico, pós-orogénico;
o concentrações relacionadas com o vulcanismo alcalino, ainda hoje mal conhecido.
Com o vulcanismo ofiolítico estão relacionadas mineralizações de crómio, cobre, pirite de ferro, etc. Estas mineralizações constituem, regra geral, pequenos jazigos, embora numerosos e por vezes de elevado teor, excepto para o caso da pirite de ferro, pois os grandes jazigos constituídos por massas piritosas estariam também relacionados com este tipo de vulcanismo.
Na dependência do vulcanismo andesítico, pós-orogénico, encontram-se concentrações muito importantes de cobre, ouro, prata, estanho, chumbo, antimónio, etc.
Este tipo de mineralizações apresenta uma série de características que o distingue de qualquer outro e que dentro das teorias clássicas se poderia considerar, talvez, como aberrante.
Assim, em primeiro lugar, verifica-se uma associação de minérios que nos jazigos de origem granítica, formados portanto a maior profundidade, tinham tendência para se separar, originando, como se viu, um zonamento das diferentes mineralizações em torno dos maciços graníticos. Por outro lado, as paragéneses contêm um número muito variado e grande de sulfossais, sobretudo sulfo-antimonietos cuja presença nos jazigos de filiação granítica tem, em regra, carácter esporádico.
Quer dizer, estas mineralizações, relacionadas com o vulcanismo andesítico, caracterizam-se por paragénese muito variada e rica, são sempre paragéneses complexas e onde os sulfossais desempenham papel importante. Não se nota distribuição zonal das mineralizações facto que levou, dentro das teorias clássicas, a definir os fenómenos de telescopagem, isto é, a sobreposição de zonas de diferentes mineralizações no espaço.
A definição de telescopagem foi mesmo provocada pela necessidade de explicar estas mineralizações dentro dos sistemas genéticos clássicos.
As mineralizações relacionadas com o vulcanismo alcalino, ou seja com os carbonatitos, foram reconhecidas muito recentemente, já depois da última guerra. Os carbonatitos, como o nome indica, são rochas essencialmente carbonatadas relacionadas com um vulcanismo alcalino; é comum a associação carbonatitos - sienitos nefelínicos.
Estas rochas podem aparecer sob a forma filoniana mas o modo de jazida mais comum é no interior dos aparelhos vulcânicos. Hoje em dia, são estas rochas que constituem a fonte principal dos minérios das terras raras, existindo ainda alguns carbonatitos com concentrações relativamente elevadas de apatite, que se têm tentado explorar para fertilizantes.
Esta classificação dos jazigos minerais, que se acaba de passar em revista, distingue-se profundamente das classificações genéticas clássicas pelo facto de, em vez de considerar uma única origem para formação dos jazigos endógenos, considerar uma pluralidade de origens e de processos. relacionando aqueles jazigos com os três tipos de rochas: granítico, granular básico e ultrabásico, e vulcânico.
Para se procurar evidenciar um pouco mais a tendência actual para o estudo dos jazigos minerais nas suas relações com a evolução da crusta terrestre, examina-se, embora de modo sumário, a classificação proposta por V. I. Smirnov (1966, 1968) para os jazigos endógenos que são, aliás, aqueles para que tal tratamento é mais original.
A apresentação da classificação de Smirnov, apesar de menos geral que a de Routhier, tem a vantagem de traduzir as ideias de uma outra escola, a russa que, menos radical que a francesa, baseia a classificação dos jazigos endógenos na evolução do ciclo geossinclinal.
Assim, para Smirnov os elementos concentrados nos jazigos minerais de carácter endógeno podem provir de:
o Origem juvenil associados com os magmas basálticos subcrustais;
o Assimilação de rochas pelos magmas palingenéticos, isto é, magmas originados pela fusão de rochas preexistentes, no interior da parte predominantemente granitóide da crusta terrestre;
o Filtração em que o material constituinte dos minérios é lixiviado, ao longo do circuitos de circulação, por soluções hidrotermais agressivas de origem muito diversa (magmática, metamórfica ou exógena).
A formação dos jazigos endógenos distribuir-se-ia pelas diferentes fases de desenvolvimento dos orógenos; assim, ter-se-iam jazigos relacionados com cada uma das três fases normalmente reconhecidas na transformação de geossinclinais em zonas enrugadas relativamente estáveis:
o Fase precoce correspondente ao período de flexões;
o Fase intermédia correspondente ao período de fracturação principal;
o Fase tardia correspondente à extinção completa do regime geossinclinal.
Na fase precoce, o magmatismo e os jazigos dependentes deste ocorrem somente em eugeossinclinais, isto é, em geossinclinais longos e estreitos caracterizados pela abundância de rochas vulcânicas.
Nesta fase, Smirnov distingue os seguintes tipos de rochas magmáticas e de jazigos com elas relacionados:
1) tipo peridotítico com jazigos de crómio, e de ósmio e irídio;
2) tipo gabróico com jazigos de titanomagnetite, e platina e paládio;
3) tipo granito-sienítico plagioclásico com jazigos em skarn de ferro e cobre;
4) tipo vulcânico submarino espilito-queratófiro e porfirítico com jazigos de pirite-calcopirite, de ferro férrico e manganês.
São, pois, os elementos basaltófilos (Fe, Mn, V, Ti, Cr, Pt, Pd, Os, Ir, Cu e Zn) ou calcófilos os característicos dos jazigos relacionados com a fase precoce e a respectiva origem é geralmente atribuída a magmas subcrustais.
Durante a fase intermédia originam-se os grandes batólitos graníticos confinados às zonas internas e periféricas dos miogeossinclinais, isto é, geossinclinais onde as rochas vulcânicas são raras ou não existem mesmo. Aqueles batólitos formar-se-iam durante a inversão do regime geossinclinal, durante a fase de deformação mais intensa ou imediatamente a seguir a esta; resultariam da fusão de rochas sedimentares, que alcançaram níveis profundos, e seriam injectados para níveis mais elevados onde aquelas rochas não teriam sofrido metamorfismo profundo e granitização.
Os tipos de rochas magmáticas e de jazigos com elas relacionados são fundamentalmente dois:
1) tipo granodiorítico, geralmente localizado na periferia das zonas geossinclinais, com jazigos de metais variados e raros em skarn;
2) tipo granítico, localizado nas zonas centrais dos geossinclinais, com jazigos pegmatíticos, greisenosos e quartzosos de Sn, W, Se, Li, Nb, Ta, etc.
Dada a natureza palingenética destas rochas, não é de estranhar a variedade de mineralizações com elas relacionadas e, até certo ponto, a paragénese destes jazigos depende
1) tipo "trap" com jazigos de sulfuretos de cobre e níquel;
da composição química das rochas que sofreram fusão. Os elementos característicos destas mineralizações são os granitófilos ou litófilos.
Os tipos mais importantes de rochas magmáticas e de jazigos que se originam durante a fase tardia da evolução geossinclinal, correspondente a plataformas activadas tectonicamente, são, segundo Smirnov, os seguintes:
2) tipo kimberlítico com jazigos de diamantes;
3) tipo ultramáfico alcalino com jazigos confinados a carbonatitos;
4) tipo alcalino com jazigos pegmatíticos e hidrotermais, predominantemente de metais raros;
5) tipo granitóide com jazigos hidrotermais de metais preciosos e raros.
Estas mineralizações teriam como característica comum o facto de estarem relacionadas com pequenas intrusões de composição diversa ou com vulcanismo andesito-dacítico.
A origem das substâncias que dão origem a estes tipos de jazigos deve evoluir gradualmente desde juvenis e subcrustais, a material crustal assimilado pelos magmas graníticos e alcalinos, até material remobilizado das rochas pela filtração de águas quimicamente activas.
Na Tabela 1.5 apresenta-se, de modo esquemático, a classificação proposta por Smirnov para os jazigos endógenos ou magmáticos e séries sedimentares associadas. Na Fig. 1.22 ilustra-se a ocorrência das rochas magmáticas e dos jazigos correspondentes aos diferentes estágios da evolução do geossinclinal.
O aparecimento das novas concepções sobre a tectónica global permitiu o entendimento dos conceitos metalogenéticos, sendo mais fácil estabelecer relações entre as províncias metalogenéticas e as placas tectónicas, à escala global, do que à escala regional. Simplesmente, nem sempre é pacífico o estabelecimento das margens das placas no passado recuado!
GuiId (1974) apresenta um ensaio de sistematização dos jazigos minerais e províncias metalogénicas segundo a Tectónica de Placas.






